Coleção 64 ("Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males." — Voltaire)
Por Claudeci Andrade
1 “A culpa, disfarçada de virtude, acusa o inocente para ocultar-se; mas a verdade, mesmo soterrada por aparências, retorna sempre ao ponto de origem e restabelece o real.”
2 - “Os sábios temem a vida e a luz por saberem que nelas se dissipam o mistério e o sentido; os tolos, ao temerem a morte e as trevas, perdem a chance de viver e compreender; cada um foge justamente do que poderia libertá-lo.”
3 “Quem teme o próprio espaço que deveria proteger transforma o discurso de segurança em contradição viva, pois ninguém ensina coragem quando faz do medo seu exemplo.”
4 “Clamar por paz aos que já romperam com a moral é apelar ao vazio; o mal não se comove com súplicas, e a justiça sem força continua a ser apenas um grito impotente diante da violência.”
5 “A tentação, longe de ser mero desvio demoníaco, é a prova divina disfarçada; pois o mesmo Deus que julga o homem é quem o testa, fazendo do pecado e da culpa instrumentos de revelação moral.”
6 “O pai só é amparado na velhice se, antes, tiver ensinado o filho a não precisar dele; pois a verdadeira herança não é a dívida, mas a liberdade que torna o cuidado um ato de amor, não de obrigação.”
7 “Em quem há muita beleza, a ignorância se desnuda; e quando o poder é feio, sua corrupção desfigura até os que o seguem; a ponto de ninguém mais saber em qual espelho restou o próprio rosto.”
8 “A escola decai quando é conduzida por quem perdeu o brilho de ensinar; um sistema exausto, sustentado por rostos cansados, tenta inspirar futuro sem ter mais fé no próprio amanhã.”
9 “Se a beleza inspira mais que o saber, o ensino se torna espetáculo; mas quando o feio reconhece sua própria decadência e ainda assim preserva a lucidez, sua feiura é menos vulgar que a dos que perderam também a alma.”
10 “Se os alunos dominassem o ofício de aprender, até professores medíocres seriam suficientes; mas cercado por pais desentendidos e coordenadores que o impedem de ensinar, o educador se vê impotente, vítima de uma responsabilidade que nunca lhe pertenceu por completo.”
11 “Quando o interesse repentino de uma mulher bela parece desmedido, a sedução se revela arma: beleza e atenção podem ocultar manipulação, lembrando que nem todo presente é verdadeiro e nem toda isca é inocente.”
12 “Cursos fáceis funcionam como terremotos que desenterram os poupadores de esforço: diplomas se acumulam, mas a competência real permanece sepultada, deixando o recém-formado perdido diante de um mundo que não recompensa credenciais vazias.”
13 “A EJA a distância promete aprendizado, mas entrega alvoroço: certificação sem qualidade, lei do menor esforço e desigualdade mascarada, enquanto o ensino regular encara rigor que ela ignora; dois pesos e duas medidas que perpetuam a injustiça educacional.”
14 “Médias estatísticas escondem excelência e fracasso, transformando o rendimento real em número mediano; assim, o sistema lucra com o fracasso, alimenta burocracia inútil e mantém o estudante refém de uma matemática que mascara a verdade.”
15 “Sem reprovação, sementes ruins geram colheita malfazeja: alunos incompetentes retornam como professores, perpetuando um ciclo infalível de mediocridade que transforma a escola em fábrica de si mesma.”
16 “Quando a escola é chamada a substituir famílias incapazes, enfrenta uma missão impossível: educar os pais não é formar crianças, e a raiz do problema (a desestrutura familiar) permanece intacta, enquanto o sistema culpa quem não tem poder sobre ela.”
17 “Se cada versão da Bíblia é tratada como palavra de Deus, a univocidade divina se desfaz: crentes fanáticos, ao aceitar múltiplas interpretações, tornam-se politeístas sem perceber, cultuando diversas vozes onde juram professar uma só.”
18 “Confesso desprezar a mediocridade travestida de igualdade: toda generalização é burra, e o ideal; se é que existe, é respeitar as diferenças sem iludir-se com uniformidade forçada.”
19 “Em grupos, a traição é estatística: sempre surge um Judas que vende o plano alheio; e os oportunistas que chegam com promessas vazias inevitavelmente partem de mãos vazias, revelando que até o fracasso humano serve para preservar a ordem divina.”
20 “Quando a punição não é formalizada, o aluno indisciplinado explora a brecha, migrando de sala em sala sob falso afeto, perpetuando a desordem e transformando a escola num espaço onde a impunidade se desloca sem controle.”
Por Claudeci Andrade
1 “A culpa, disfarçada de virtude, acusa o inocente para ocultar-se; mas a verdade, mesmo soterrada por aparências, retorna sempre ao ponto de origem e restabelece o real.”
2 - “Os sábios temem a vida e a luz por saberem que nelas se dissipam o mistério e o sentido; os tolos, ao temerem a morte e as trevas, perdem a chance de viver e compreender; cada um foge justamente do que poderia libertá-lo.”
3 “Quem teme o próprio espaço que deveria proteger transforma o discurso de segurança em contradição viva, pois ninguém ensina coragem quando faz do medo seu exemplo.”
4 “Clamar por paz aos que já romperam com a moral é apelar ao vazio; o mal não se comove com súplicas, e a justiça sem força continua a ser apenas um grito impotente diante da violência.”
5 “A tentação, longe de ser mero desvio demoníaco, é a prova divina disfarçada; pois o mesmo Deus que julga o homem é quem o testa, fazendo do pecado e da culpa instrumentos de revelação moral.”
6 “O pai só é amparado na velhice se, antes, tiver ensinado o filho a não precisar dele; pois a verdadeira herança não é a dívida, mas a liberdade que torna o cuidado um ato de amor, não de obrigação.”
7 “Em quem há muita beleza, a ignorância se desnuda; e quando o poder é feio, sua corrupção desfigura até os que o seguem; a ponto de ninguém mais saber em qual espelho restou o próprio rosto.”
8 “A escola decai quando é conduzida por quem perdeu o brilho de ensinar; um sistema exausto, sustentado por rostos cansados, tenta inspirar futuro sem ter mais fé no próprio amanhã.”
9 “Se a beleza inspira mais que o saber, o ensino se torna espetáculo; mas quando o feio reconhece sua própria decadência e ainda assim preserva a lucidez, sua feiura é menos vulgar que a dos que perderam também a alma.”
10 “Se os alunos dominassem o ofício de aprender, até professores medíocres seriam suficientes; mas cercado por pais desentendidos e coordenadores que o impedem de ensinar, o educador se vê impotente, vítima de uma responsabilidade que nunca lhe pertenceu por completo.”
11 “Quando o interesse repentino de uma mulher bela parece desmedido, a sedução se revela arma: beleza e atenção podem ocultar manipulação, lembrando que nem todo presente é verdadeiro e nem toda isca é inocente.”
12 “Cursos fáceis funcionam como terremotos que desenterram os poupadores de esforço: diplomas se acumulam, mas a competência real permanece sepultada, deixando o recém-formado perdido diante de um mundo que não recompensa credenciais vazias.”
13 “A EJA a distância promete aprendizado, mas entrega alvoroço: certificação sem qualidade, lei do menor esforço e desigualdade mascarada, enquanto o ensino regular encara rigor que ela ignora; dois pesos e duas medidas que perpetuam a injustiça educacional.”
14 “Médias estatísticas escondem excelência e fracasso, transformando o rendimento real em número mediano; assim, o sistema lucra com o fracasso, alimenta burocracia inútil e mantém o estudante refém de uma matemática que mascara a verdade.”
15 “Sem reprovação, sementes ruins geram colheita malfazeja: alunos incompetentes retornam como professores, perpetuando um ciclo infalível de mediocridade que transforma a escola em fábrica de si mesma.”
16 “Quando a escola é chamada a substituir famílias incapazes, enfrenta uma missão impossível: educar os pais não é formar crianças, e a raiz do problema (a desestrutura familiar) permanece intacta, enquanto o sistema culpa quem não tem poder sobre ela.”
17 “Se cada versão da Bíblia é tratada como palavra de Deus, a univocidade divina se desfaz: crentes fanáticos, ao aceitar múltiplas interpretações, tornam-se politeístas sem perceber, cultuando diversas vozes onde juram professar uma só.”
18 “Confesso desprezar a mediocridade travestida de igualdade: toda generalização é burra, e o ideal; se é que existe, é respeitar as diferenças sem iludir-se com uniformidade forçada.”
19 “Em grupos, a traição é estatística: sempre surge um Judas que vende o plano alheio; e os oportunistas que chegam com promessas vazias inevitavelmente partem de mãos vazias, revelando que até o fracasso humano serve para preservar a ordem divina.”
20 “Quando a punição não é formalizada, o aluno indisciplinado explora a brecha, migrando de sala em sala sob falso afeto, perpetuando a desordem e transformando a escola num espaço onde a impunidade se desloca sem controle.”






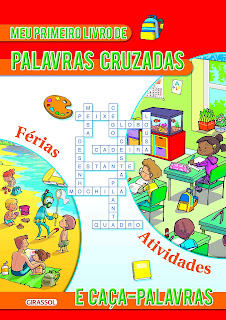


.jpg)



.jpg)



